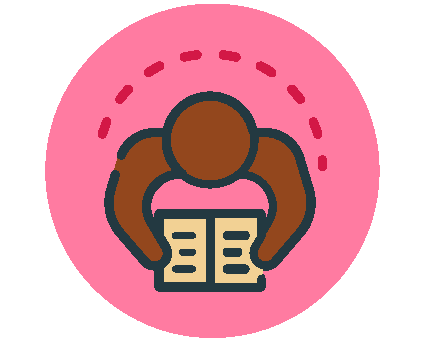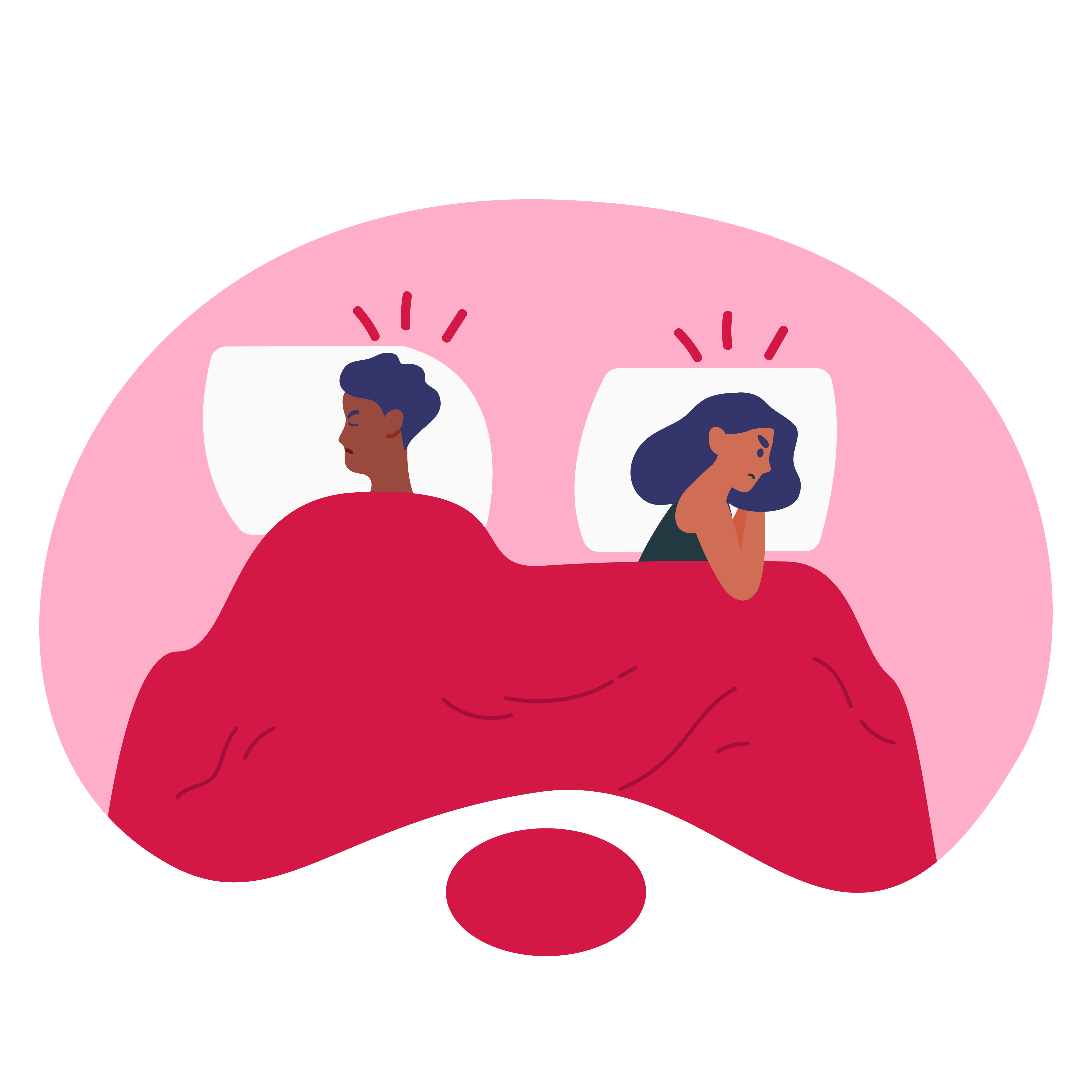Nós, praticantes-aprendizes da Comunicação Não-Violenta (CNV), sabemos que essa abordagem não é sobre termos e palavras que não podemos usar para que nossos diálogos não sejam violentos, já que a CNV é muito mais que isso.
Mas também sabemos que as palavras têm história, tem contextos e que elas se sustentam em pactos sociais estabelecidos de formas pouco democráticas. E o mais importante, as palavras e nossos padrões de linguagens são elementos vivos em nossa comunicação; eles se transformam com o passar do tempo e modificações sociais que redefinem os sentidos das palavras e expressões.
Um exemplo bobinho, mas que evidencia o quanto as mudanças históricas e sociais interferem em nosso vocabulário é a palavra “você”. O “você” tão comum na atualidade é uma variação de “vossa mercê”; e mercê, em latim, significa recompensa, pagamento. Este termo era usado para fidalgos portugueses, no século XV, quando tinham reconhecido seu suposto valor de nobreza, apesar de não fazerem parte da realeza oficial. Essas duas palavras foram sendo usadas e transformando-se com o passar do tempo: “vossmecê”, “vosmecê”, até chegar no “você” que utilizamos hoje (sabendo que, nos últimos tempos, as redes sociais já imprimiram mais mudanças na grafia desse pronome).
Esse exemplo aborda não apenas a questão das mudanças de grafia, mas para além dessas, há mudanças de sentido, de significado e mesmo o “caducamento” de certos termos.
A linguagem inclusiva diz exatamente desse movimento de transformação e adaptação da língua. Algo que sempre existiu e que também sempre foi alvo de resistência por parte de mentalidades mais conservadoras ou ignorantes dos processos naturais de transmutação das línguas.
O fato de não usarmos alguns termos que hoje reconhecemos como racistas, por exemplo, nos alinha à perspectiva inclusiva, visto que reconhece a violência subjacente aos termos, assume a historicidade deles e, o mais importante, nos permite dar um passo em direção à escolha de não reproduzir palavras e reforçar padrões sociais violentos.
O mesmo vale para a linguagem inclusiva de gênero e o desuso de termos capacitistas. Adotar o que está sendo proposto a partir da experiências de pessoas que não se sentem representadas pela língua corrente significa um ato de compromisso com a ampliação de nosso entendimento de equidade, respeito, justiça e da própria democracia.
“Nossa, mas é tão difícil (e chato) implementar essas mudanças…”
Sim, eliminar automatismos que já estão bem assentados em nossos comportamentos, por mais violentos que sejam, dá trabalho sim. E, se dá trabalho para quem não é violentamente atingido pelas atitudes condicionadas, imagine para quem é: negres, LGBTQIAPN+, mulheres, pessoas com deficiência, etc. Para todas estas pessoas e grupos é mais que trabalhoso; é uma questão de resistência e existência discursiva, e, como sabemos, a linguagem cria realidades.
Então, amores, como disse no início, não se trata do que se pode ou não dizer, de que palavras temos que eliminar, protocolarmente, do nosso vocabulário para sermos “alguém da CNV”. Fazer mudanças formais assim pouco adiantam para os processos de mudanças que queremos sustentar. O convite é de autoinvestigação e reconhecimento das opressões estruturais acolhidas pela linguagem e, a partir daí, escolher não compactuar com a manutenção e reforçamento de dores sistêmicas.
Para quem assume essa escolha, o caminho é longo. Porém, preenchido de uma consciência sobre quem somos, enquanto sociedade, e sobre o que estamos fazendo aqui.